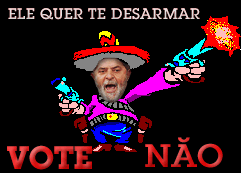De minha viagem à Disney aos quinze anos, tenho algumas lembranças marcantes, e duas delas contrastam fortemente com a realidade que tinha até então experimentado no Brasil.
Uma delas foi na própria Disneyland, quando, por reflexo, joguei a embalagem de sorvete no chão do parque impecavelmente limpo. Olhei em torno e havia dúzias de lixeiras enormes ladeando toda a rua; olhei para baixo, e apenas o meu papelzinho era estrela solitária naquele céu liso, uma vergonha para mim. Depois de hesitar um pouco, abaixei-me resolutamente, catei o papel e o depositei em uma das latas. Desde esse dia, exatamente dezenove anos sem sair do Brasil, nunca mais joguei nada no chão – mesmo que isso significasse andar um bom tempo com algo levemente pegajoso na mão ou na bolsa. Foi uma experiência que me educou para sempre.
A outra foi em frente ao hotel onde estávamos, quando, depois de ter comprado alguns petiscos para comer no quarto, eu precisei atravessar uma imponente auto-estrada de mão dupla por onde carros passavam em alta velocidade. Já tinham me contado que ali não havia sinal, pois os carros parariam assim que alguém se posicionasse no meio-fio, esperando. Mas nada se compara à sensação de comprová-lo: eles pararam lindamente, um do ladinho do outro, só para que eu – eu! uma moleca de quinze anos – desfilasse com total tranqüilidade diante dos monstros resfolegantes, só faltando dar a eles um tchauzinho de alegria.
A primeira, uma experiência de responsabilidade. O Brasil não nos ensina isso: pelo contrário, a todo momento somos recompensados pela maleabilidade das regras quando as infringimos, ou punidos pela nossa insistência em cumpri-las. Um buzinar impaciente atrás do carro parado à noite em sinal vermelho, o perdão da bibliotecária amiga pelos meses de atraso na devolução dos livros, o riso alheio de escárnio quando contamos que perdemos a bolsa de estudos porque dissemos a verdade sobre um emprego novo.
A segunda, uma experiência de valor individual. A quase neutralidade na reação corrente aos maliciosos esquemas da política e até o menor exemplo de comportamento cotidiano mostram que se entranha cada vez mais profundamente no espírito do brasileiro que as instituições ou as coletividades são mais importantes que as pessoas. O corporativismo nas empresas e universidades públicas, a voracidade do Estado que inibe a iniciativa privada e incha com a quarta parte de nossos salários, o tapinha nas costas que substitui a crítica isenta só para que todo mundo continue "unido", a brutalidade com que somos conduzidos pelo motorista nos ônibus das grandes cidades – tudo no Brasil favorece um resignado ou cúmplice encolher de ombros perante a grande máquina que, estatal, coletivista ou mecânica, sempre envolta em fumaças de "cordialidade", representa um simulacro de transcendência que oprime e não ama, comprazendo-se em chacoalhar corpos e almas até que se indistingam uns dos outros em uma massa amorfa e inerte.
Quisera eu que não fosse assim. Mas tem sido. Ainda que se negue tudo o que no Brasil tem pisoteado nossa liberdade individual – a falta de solidez que impede qualquer plano para o futuro, a vigência de leis absurdas e modos ainda mais absurdos de contorná-las, o monocromatismo das idéias que se impõem sem permitir contestação, a deterioração não natural, mas sobrenatural, do que nos cerca – , mesmo a menor atenção prestada aos olhares apagados que se cruzam com os nossos no dia-a-dia será testemunha disso. Quisera eu que substituíssemos o cultivo ao ódio pelos Estados Unidos, quase obrigatório em círculos bem (mal) pensantes da intelectualidade (hein?) brasileira, por uma saudável reflexão acerca do que lá nos incomoda tanto, e do que afinal temos feito aqui, para transformar pouco a pouco este país em um verdadeiro inferno.